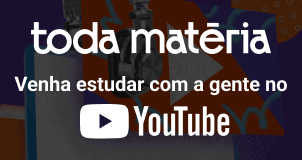Exercícios sobre Aristóteles e sua filosofia (com gabarito)
Confira os exercícios, acompanhado de gabarito comentado, que tem como objetivo auxiliar estudantes e interessados em Filosofia a revisar os principais aspectos do pensamento aristotélico.
Questão 1
“Seu princípio é que o maior bem que possa acontecer para um Estado qualquer é a perfeita unidade; digo o mesmo, mas se levarem muito longe essa unidade, ela não será mais uma sociedade política que consiste essencialmente numa multidão de pessoas. De uma Cidade podem fazer uma família, e, de uma família, uma só pessoa. Com efeito, há mais unidade numa família do que num Estado, e numa só pessoa do que numa família. Ora, se fosse possível estabelecer esta perfeita unidade entre os membros de um Estado, seria preciso evitá-lo: isso seria destruir a sociedade política, que, por essência, é constituída de pessoas, não apenas em grande número, mas também dessemelhantes e de espécies diferentes”. (ARISTÓTELES. Exame das Duas República de Platão, in: ARISTÓTELES. A Política. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 3° Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006).
Aristóteles critica as ideias da República de Platão, uma vez que:
A) Platão apresenta uma cidade heterogênea, por ser composta de indivíduos distintos;
B) na República, os núcleos familiares têm seus valores submetidos às individualidades;
C) ele desconsidera a individualidade em favor da unidade do Estado;
D) Platão busca a unidade extrema como saída para destruição da cidade ;
Aristóteles critica o ideal platônico de cidade, em virtude deste enfatizar uma uniformidade excessiva.
De acordo com o trecho, Aristóteles argumenta que a cidade (polis) é naturalmente heterogênea (plural), uma vez que é composta por uma diversidade de indivíduos.
O que permite certa unidade é a tendência de identificação destes com os demais indivíduos (o que ocorre em núcleos familiares, por exemplo) e, ao mesmo tempo, o sentimento de pertencimento comunitário. Todavia, essa tendência não deve ser excessiva a ponto de superar as distinções individuais, visto que isso levaria a cidade a se destruir.
Ramos (2014, p. 66), coloca que essa unidade excessiva, poderia tornar “a vida política” em “um ente que se assemelha a um ser individual exclusivo e excludente”, sendo esse exclusivismo aquilo que levaria à derrocada da cidade, uma vez que o bom funcionamento da própria cidade depende das diferentes aptidões que seus cidadãos desenvolvem.
Questão 2
“Sendo, pois, o fim aquilo que desejamos, e o meio aquilo acerca do qual deliberamos e que escolhemos, as ações relativas ao meio devem concordar com a escolha e ser voluntárias. Ora, o exercício da virtude diz respeito aos meios. Por conseguinte, a virtude também está em nosso poder, do mesmo modo que o vício, pois quando depende de nós o agir, também depende o não agir, e vice-versa; de modo que quando temos o poder de agir quando isso é nobre, também temos o de não agir quando é vil; e se esta em nosso poder o não agir quando isso é nobre, também está o agir quando isso é vil”. (ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, III, 5).
Considerando o texto, pode-se concluir que:
A) o homem é responsável por ser virtuoso ou não, em virtude de suas escolhas;
B) o homem é naturalmente inclinado a fazer o bem, por isso, a virtude lhe é inata;
C) uma ação somente pode ser dita virtuosa ou vil após sua ocorrência, uma vez que elas são relativas;
D) uma ação será boa ou não a depender da natureza do homem;
Aristóteles mostra, a partir desse trecho, que o homem delibera sobre os meios tomados para atingir aquilo que se deseja (fim). Tais meios dizem respeito a agir de forma nobre ou não (virtuosa ou vil) e estes, por serem deliberados, ou seja, uma vez que são escolhas que envolvem o uso da razão, estão no poder do homem. Isso torna o homem responsável por suas ações e escolhas.
Questão 3
“Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer: uma prova disso é o prazer das sensações, pois, fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas e, mais que todas as outras, as visuais. Com efeito, não só para agir, mas até quando não nos propomos operar coisa alguma, preferimos, por assim dizer, a vista aos demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre”. (ARISTÓTELES. Metafísica, I, 1).
De acordo com o trecho de Aristóteles, a primazia do sentido da visão sobre os demais se justifica porque:
A) é, entre os sentidos, o mais útil para práxis cotidiana e o único capaz de assegurar a nossa sobrevivência;
B) ele é o que permite a apreensão das formas e de elementos distintos;
C) é o sentido que gera prazer, sendo fundamental no processo de deliberação;
D) é o sentido que sempre está em atividade, captando toda a realidade do entorno;
Considerando que é da natureza humana o desejo de conhecimento, Aristóteles enfatiza que a visão é o que melhor leva os homens ao conhecimento das coisas, visto que é o sentido que permite a maior descoberta de distinções.
A visão não só capta os objetos que lhe são próprios (como as cores), mas outros elementos que nos permitem apreender melhor os entes.
Em De Anima (418a11), Aristóteles nos aponta que tanto “o movimento”, quanto “o repouso, o número, a figura e a magnitude” não são próprios de um sentido, “mas comum a todos”. A visão tem o poder de captar se há ou não movimento de um ente, assim como identificar a quantidade dos entes em um espaço, sua figura ou tamanho.
Além desse aspecto que Aristóteles atribui a visão, os próprios antigos a exaltam, como um sentido de maior importância, uma vez que metaforicamente a visão representa a capacidade do homem de se aproximar da verdade pela razão. Basta lembrarmos das falas de Platão acerca da saída do prisioneiro da caverna e o momento em que ele olha para o Sol.
Questão 4
"Que o homem seja um animal político no mais alto grau do que uma abelha ou qualquer outro animal vivendo num estado gregário, isso é evidente. A natureza, conforme dizemos, não faz nada em vão, e só o homem dentre todos os animais possui a palavra. Assim, enquanto a voz serve apenas para indicar prazer ou sofrimento, e nesse sentido pertence igualmente aos outros animais [...] o discurso serve para exprimir o útil e o prejudicial e, por conseguinte, também o justo e o injusto; pois é próprio do homem perante os outros animais possuir o caráter de ser o único a ter o sentimento do bem e do mal, do justo e o injusto e de outras noções morais, e é a comunidade destes sentimentos que produz a família e a cidade" (ARiSTÓTELES apud: RAMOS, 2014, p. 67).
Considerando o trecho, pode-se dizer que “o discurso”, segundo Aristóteles:
A) é ferramenta da natureza sociável do ser humano;
B) é algo compartilhado com os demais existentes;
C) surge com a queixa dos indivíduos acerca daquilo que é injusto;
D) não torna o homem um ser sociável, mas é algo que o distância dos demais;
Para Aristóteles, o ser humano é naturalmente um animal político (zoon politikon) e o que o diferencia dos demais animais é o fato dele ter um logos (razão). É ela que nos dá condições de uma comunicação mais complexa (elaboração de discurso) do que a voz que os animais possuem.
A razão e essa capacidade que temos de elaborar discursos são dadas por natureza, estando já na base da constituição do ser homem, assim, como sua necessidade de uma vida em sociedade.
Questão 5
“A noção de eudaimonia é central para a ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade e não um estado psicológico, pois é definida na Ética a Nicômaco como uma atividade da alma com base na virtude moral. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação, o que o leva a estudar a virtude intelectual que opera em seu interior, isto é, a prudência. A estrutura conceitual da ética aristotélica responde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isto, agir bem, ou, na linguagem aristotélica, o que significa ser feliz. (ZINGANO, M. Eudaimonia, razão e contemplação na ética aristotélica. Analytica, n. 1, 2017).
De acordo com o trecho, a eudaimonia pode ser corretamente definida como:
A) um estado psicológico de satisfação pessoal, resultado da busca por uma vida sem sofrimento;
B) uma atividade da alma atrelada ao agir de forma prudente, para alcançar a felicidade;
C) o próprio estudo da ética de Aristóteles e que nos direciona a ação virtuosa;
D) uma estrutura conceitual que resulta da avaliação da virtude moral;
Eudaimonia é um termo grego que traduz a ideia de felicidade. No texto, ela é apresentada como uma atividade da alma alcançada por meio de uma ação virtuosa, ou seja, pela escolha que se faz em favor do “agir bem”.
Em linhas gerais, quando o homem decide agir bem, com prudência, ele se aproxima mais da ideia de “ser feliz”, pois não só começa praticar a virtude (importante para a vida em sociedade), como elevar a sua alma para aquilo que é mais nobre (a vida contemplativa e busca da verdade).
Questão 6
"Posto que temos distinguido três classes de substâncias, duas naturais e uma imóvel, há que dizer acerca desta última que tem que haver uma substância eterna imóvel. As substâncias, com efeito, são os entes primeiros, e se todas fossem corruptíveis, todas as coisas seriam corruptíveis. Mas é impossível que o movimento se gere ou corrompa (pois, como temos dito, tem existido sempre). [...]. Mas o movimento não é contínuo, exceto o movimento local, e deste, o circular". (ARISTÓTELES, apud: RICARDO; CAMPOS, 2014).
De acordo com o trecho, a existência de uma substância eterna e imóvel é uma necessidade lógica para Aristóteles porque:
A) as substâncias naturais, sendo corruptíveis, são incapazes de gerar qualquer movimento;
B) o movimento seria contínuo e tudo seria eterno, algo que não condiz com realidade terrestre;
C) há movimentos contínuos que não são gerados e nem corrompidos, como o movimentos dos céus;
D) os entes primeiros possuem movimento retilíneos e não constantes;
No trecho, é enfatizada a existência de movimentos contínuos e circulares, que não são gerados e nem se corrompem (ou seja, nunca cessam). Para que esse tipo de movimento possa existir, Aristóteles estabelece a necessidade de um motor imóvel como causa da atualização dos movimentos contínuos.
Esse ponto é esclarecido quando nos lembramos sobre a natureza das duas substâncias naturais:
1. Uma das substâncias naturais é sujeita à geração e à corrupção, pois sua matéria é composta dos quatro elementos (fogo, água, terra e ar), sendo, portanto, a substância que gera os entes terrestres. O movimento a ela atrelado tende a cessar, uma vez que ela é corruptível;
2. A segunda das substâncias naturais, que compõe os corpos celestes (éter), é incorruptível. Por isso, o movimento atrelado à ela é igualmente incorruptível, apresentando-se sempre de maneira circular. Esse movimento não foi gerado, pois se fosse, não haveria um movimento contínuo, uma vez que, em algum momento, anterior, ele não teria existido.
A fim de que o movimento dos céus seja sempre contínuo, faz-se necessário a existência de uma substância eterna e imóvel como causa primeira e de atualização do movimento celeste.
Tal substância, que também se definirá como motor imóvel, é eterna, “pois não foi criada”. É “imóvel, devido ao fato de o movimento exigir uma força infinita que não possa provir dos entes, mas é causa última do movimento dos entes”. E é “incorruptível, pois não possui a matéria que é passível de corrupção” (RAFAEL, 2005, p. 2-3).
Questão 7
Texto 1:
“Na realidade, porém, a ciência e a arte vêm aos homens por intermédio da experiência, porque a experiência, como afirma Polos, e bem, criou a arte, e a inexperiência, o acaso. E a arte aparece quando, de um complexo de noções experimentadas, se exprime um único juízo universal dos [casos] semelhantes” (ARISTÓTELES, Metafísica, I, 1).
Texto 2:
“A etapa seguinte é a técnica, que poderíamos traduzir por arte ou técnica. De fato, os gregos não distinguiam entre a atividade do sapateiro e a do escultor, considerando todas como tipos de techné. A techné é portanto o trabalho do artífice ou do artesão. Consiste não apenas em um conhecimento prático, mas já em um conhecimento das regras que permitem produzir determinados resultados. Na techné, como diz Aristóteles, sabe-se “o porquê das coisas”, ou seja, pode-se determinar a causa. É só no nível da técnica que temos a possibilidade de ensinar, já que o ensinamento envolve a determinação de regras e de relações causais, que transmitimos quando ensinamos” (MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008).
De acordo com os textos, pode-se dizer que a arte é:
A) um tipo de conhecimento que é idêntico à experiência, pois se baseia na simples observação de eventos semelhantes;
B) um saber puramente prático que não busca uma compreensão mais elevada sobre os motivos daquilo que faz;
C) um conhecimento que depende da experiência para se constituir, mas que é menos elevada do que ela por ser um saber generalista;
D) uma forma de conhecimento que surge da experiência, mas que é superior a esta por ter compreensão das causas e ser passível de transmissão;
Ambos os trechos tratam sobre os graus de desenvolvimento do conhecimento, dando ênfase ao desenvolvimento técnico como sendo aquele que deriva da experiência.
Diferente de Platão, que acreditava que o conhecimento humano era inato, Aristóteles considera que ele se forma a partir de nossas sensações, assim, há um processo acumulativo para que a mera percepção sensível se torne, de fato, conhecimento.
A grosso modo, o caminho para o conhecimento humano seria o seguinte:
1. Contato com os objetos externos e percepção pelos sentidos;
2. Elaboração de uma imagem dessa percepção que ficará retida na memória;
3. Estabelecimento de relações entre os dados do sentido e a memória, identificação de repetições e elaboração de conclusões (criação de experiência dos eventos singulares);
4. Desenvolvimento técnico a partir da experiência, que envolve compreensão dos “porquês” e das regras de uma dada ocorrência (conhecimento mais universal);
5. Compreensão dos princípios da natureza e formação de um conhecimento universal acerca da realidade (conhecimento teórico/científico);
Tendo em vista tais etapas do conhecimento, pode-se dizer que a arte (conhecimento técnico) deriva da experiência e está acima desta, pois não se volta somente para observação e aplicação em casos singulares, mas para o desenvolvimento de um saber mais universal sobre as coisas, quando vai em busca dos motivos de suas ocorrências.
Leia também: Aristóteles: biografia, ideias e obras do filósofo grego
Para mais exercícios:
Exercício de Filosofia para o 1º ano do Ensino Médio (com gabarito)
Exercícios de Filosofia (com respostas explicadas)
Questões de Filosofia que caíram no Enem
Referências Bibliográficas
ARISTÓTELES. Metafísica.Tradução de Vincenzo Coceo. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1973.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco.Tradução de Leonel Vallandro. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1973.
ARISTÓTELES. A Política. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 3° Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
ARISTÓTELES. De Anima: livro I, II e III. Tradução de Maria Cecília Gomes dos Reis. São Paulo: Editora 34, 2006.
ESPÍNDOLA, R. J. “A Questão da Virtude e do Vício na Ética Aristotélica”. Revista Razão e Fé, v.1, n. 20, 2018.
MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
RAMOS, C. A. “Aristóteles e o Sentido Político da Comunidade ante o Liberalismo”. Kriterion, Belo Horizonte, n. 129, Jun./2014, pp. 61-77.
RAFAEL, A. J. S. “O Primeiro Motor no Livro XII da Metafísica de Aristóteles”. Existência e Arte: Revista Eletrônica do Grupo PET. São João Del-Rei, a. I, n. I, Jan./Dez., 2005.
RICARDO, E. C.; CAMPOS, A. “A Natureza da Região Celeste em Aristóteles”. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 36, n. 4, 2014.
ZINGANO, M. "Eudaimonia, Razão e Contemplação na Ética Aristotélica". Analytica, n. 1, 2017.
AGUENA, Anita. Exercícios sobre Aristóteles e sua filosofia (com gabarito). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-aristoteles-e-sua-filosofia-com-gabarito/. Acesso em: