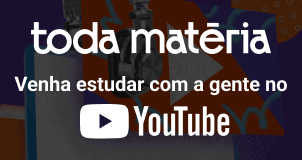Exercícios sobre estética na filosofia (com gabarito)
Os exercícios a seguir, com gabarito comentado, têm como objetivo ajudar estudantes a revisar os principais conceitos estéticos desenvolvidos ao longo da história da Filosofia, facilitando a compreensão e a preparação para provas e discussões acadêmicas.
Bons estudos!
Questão 1
“Existindo a definição, podemos facilmente descobrir o termo assim definido. Já os filósofos gregos e os padres da Igreja sempre distinguiram cuidadosamente as coisas sensíveis (aisthéta) das inteligíveis (noéta). É evidente o bastante que as coisas sensíveis não equivalem somente aos objetos das sensações, uma vez que também honramos com este nome as representações sensíveis de objetos ausentes (logo, os objetos da imaginação)” (BAUMGARTEN, A. G. Estética: a lógica da arte e do poema. Tradução de Miriam Sutter Medeiros. Petrópolis: Vozes, 1993).
A partir desse trecho Baumgarten nos dirá que as coisas inteligíveis são objetos de conhecimento da Lógica, assim, os sensíveis seriam objeto de qual ciência?
A) da Física;
B) da Ontologia;
C) da Estética;
D) da Ética;
Nessa obra Baumgarten irá tratar da natureza da Estética como conhecimento ou ciência das sensações, sendo ele quem cunhou o termo "Estética" como uma das áreas de conhecimento da Filosofia.
No trecho acima, o filósofo irá fazer uma distinção de áreas e de seus objetos de estudo. Ele coloca sob a Lógica a compreensão dos objetos inteligíveis e, sob a Estética, aquilo que faz parte do sensível. Estão incluídas nela o estudo da Retórica e da Poética.
Questão 2
“A arte sem sonho destinada ao povo realiza aquele idealismo sonhador que ia longe demais para o idealismo crítico. Tudo vem da consciência, em Malebranche e Berkeley da consciência de Deus; na arte para as massas, da consciência terrena das equipes de produção. Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo é ele próprio derivado deles e só varia na aparência. Os detalhes tornam-se fungíveis. A breve sequência de intervalos, fácil de memorizar, como mostrou a canção de sucesso; o fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como good sport que é; [...] quem é recompensado, e, ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto”. (ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. A Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar).
Essa crítica à arte para as massas, baseada na repetição e na superficialidade de conteúdos, tem relação com qual escola de pensamento?
A) É abordada pelo ceticismo;
B) É abordada pelos intelectuais da escola helenista;
C) É abordada pela escola evolucionista;
D) É abordada pela Escola de Frankfurt;
O trecho trata do problema da massificação das obras de arte com advento da Indústria Cultural. Adorno e Horkheimer, dois pensadores da escola de Frankfurt, apontam que a arte, sob o sistema capitalista, transformou-se em mero produto de consumo.
A Indústria Cultural padronizou as obras artísticas (como novelas e filmes), tornando-as superficiais e previsíveis. Assim, a arte deixou de servir para o desenvolvimento intelectual e como ferramenta crítica, transformando-se em uma forma de entretenimento passivo.
Questão 3
“Por conseguinte, a arte de imitar [mimetiké] está bem longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo fato de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição [eídolon]. Por exemplo, dizemos que o pintor nos pintará um sapateiro, um carpinteiro, e os demais artífices, sem nada conhecer dos respectivos ofícios” (PLATÃO. A República, X).
Tendo em vista o trecho acima, qual seria a crítica platônica aos imitadores?
A) Os imitadores são inferiores em suas produções, uma vez que seus ofícios são limitados a pequenas porções;
B) A crítica está no fato do artista não ter conhecimento real daquilo que está imitando;
C) Platão é contra artistas, como pintores e carpinteiros, por não reproduzirem a ideia pensada ou a realidade com perfeição;
D) Para o filósofo, apesar das artes serem cópias perfeitas da realidade, elas não são úteis à sociedade;
Platão lança várias críticas aos artífices, de modo geral.
Em dado momento, na República, Platão anuncia que os poetas deveriam ser expulsos da cidade, a fim de evitar as ilusões criadas pela imitação da realidade e a corrupção moral, já que, ao encenar tragédias ou comédias, os artistas estariam induzindo a reprodução também de paixões e de ações vis dos personagens.
No trecho acima, há dois problemas sendo apontados pela crítica de Platão. O primeiro está ligado ao problema da aparência do objeto imitado. Para Platão, o artista cria com sua arte algo afastado ontologicamente da verdadeira realidade do objeto. Já o segundo está ligado ao fato do pintor se passar por grande sábio, quando na verdade, não conhece nada propriamente do ofício que ele pinta.
Questão 4
“Parece haver duas causas, e ambas devido à nossa natureza, que deram origem à poesia. A tendência para a imitação é instintiva no homem, desde a infância. Neste ponto distingue-se de todos os seres, por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação adquire seus primeiros conhecimentos, por ela todos experimentam prazer. A prova é-nos visivelmente fornecida pelos fatos: objetos reais que não conseguimos olhar sem custo, contemplamo-los com satisfação em suas imagens mais exatas; é o caso dos mais repugnantes animais ferozes e dos cadáveres. A causa é que a aquisição de conhecimento arrebata não só o filósofo, mas todos os seres humanos, mesmo que não saboreiem durante muito tempo essa satisfação. Sentem prazer em olhar essas imagens, cuja vista os instrui e os induz a discorrer sobre cada uma e a discernir aí fulano ou sicrano. Se acontece alguém não ter visto ainda o original, não é a imitação que produz prazer, mas a perfeita execução, ou a cor ou outra causa do gênero. Como nos é natural a tendência à imitação, bem como o gosto da harmonia e do ritmo [...], na origem, os homens mais aptos por natureza para estes exercícios aos poucos foram dando origem à poesia por suas improvisações”. (ARISTÓTELES. apud: RUFINONI, 2010, p.12-13).
Aristóteles desloca o problema platônico, para mostrar que a imitação:
A) tem relação com o gosto pela observação da crueza do mundo, pois retrata a verdade;
B) está ligado aos desejos humanos de superar os enganos, a partir da observação do que é factual;
C) é precisamente a perfeita execução das obras de arte, a partir do improviso artístico;
D) é algo natural no homem e que está atrelada ao prazer do que é experimentado;
Ao contrário de Platão, Aristóteles não via a imitação (mímesis) como algo negativo na vida humana. O Estagirita deixa claro no texto, “a tendência para a imitação é instintiva no homem”, ou seja, a imitação é algo natural ao homem.
Pela arte, o homem imita a natureza, assim, não só pode retratar o que existe ou como deveria ser, como também pode criar o que ainda não existe.
Essa capacidade imitativa não só gera conhecimento, como o texto aponta, mas também o prazer.
Questão 5
"A arte surgiu para servir a rituais, a cultos [...]. Desde então, nas palavras de Benjamin (1994, p. 171), “o valor único da obra de arte ‘autêntica’ tem sempre um fundamento teológico, por mais remoto que seja [...]”, e ainda “esse modo de ser aurático da obra de arte nunca se destaca completamente de sua função ritual ”. Como a importância da obra estava ligada à sua função no culto, ela não era muito exposta, não estava sempre ao alcance dos homens. A baixa exponibilidade e o valor de culto eram características da obra de arte" (ARAUJO, 2010, p. 124).
De acordo com as ideias de Walter Benjamin, pode-se dizer uma obra de arte tem “aura”, pois:
A) tem ampla circulação, sendo reconhecida em virtude de sua reprodução e acessibilidade;
B) tem a capacidade de provocar emoções intensas e reflexão crítica no observador, independente do seu contexto original de criação;
C) carrega uma autenticidade e um caráter ritualístico que a presentifica e a torna única;
D) possui uma beleza formal em virtude de participar da ideia de belo universal, sendo, por isso, uma obra atemporal;
No trecho, o comentador de Walter Benjamin enfatiza o valor de culto que a obra de arte recebe. Esse aspecto está ligado à sacralização (fundamento teológico, ritualístico) da obra original, uma vez que ela é única e transcende o alcance dos homens (foi pouco exposta ao longo do tempo).
Ao mesmo tempo, segundo Benjamin, a obra de arte traz uma autenticidade. Ela é marcada por transformações físicas e carrega a história daqueles que detinham sua propriedade.
Questão 6
"O desenvolvimento da arte está ligado à dicotomia do apolíneo e do dionisíaco, do mesmo modo como a geração provém da dualidade dos sentidos, em contínuo conflito entre si e em reconciliação meramente periódica [...I. Em suas [dos gregos] duas divindades artísticas, Apolo e Dioniso, baseia-se nossa teoria de que no mundo grego existe enorme contraste, enorme pela origem e pelo fim, entre a arte figurativa, a de Apolo, e a arte não figurativa da música, que é especificamente a de Dioniso. Os dois instintos, tão diferentes entre si, caminham um ao lado do outro, no mais das vezes em aberta discórdia [...I, até que, em virtude de um milagre metafísico da ʼvontadeʼ helênica, apresentam-se por fim acoplados um ao outro. E nesse acoplamento final gera-se a obra de arte, tão dionisíaca quanto apolínea, que é a tragédia ática". (NIETZSCHE apud: REALE, apud: REALE, 2006, p. 7).
Ao falar da dicotomia do apolíneo e do dionisíaco, Nietzsche está:
A) apresentando duas forças em equilíbrio da existência e que tinha sua representação melhor expressa na tragédia grega;
B) indicando que ambos são estilos artísticos que sucederam a arte grega e não têm relação de conflito ou união;
C) criticando a arte não figurativa da música e exaltando a arte figurativa (apolínea), por expressar a verdade que a humanidade busca;
D) explicando a origem da arte grega como uma manifestação puramente racional e ordenada;
Em sua obra o Nascimento da Tragédia, Nietzsche empreende uma análise da tragédia grega e revela essas duas forças que apareciam manifestas e plenamente aceitas no pensamento grego, antes de Sócrates.
De um lado, Nietzsche destaca-nos a força apolínea, personificada pelo deus grego do Sol, Apolo. Esta representa a busca pela verdade, a racionalidade, a perfeição, a moderação e a individualidade. É considerado o princípio da ordem, da clareza e da arte figurativa.
De outro, destaca-nos a força dionisíaca, associada a Dionísio, o deus do vinho e da embriaguez. Ela simboliza a força instintiva, as paixões, a dissolução dos limites e a criatividade humana. É a origem do êxtase e da arte não figurativa, como a música.
Nietzsche apresenta o apolíneo e dionisíaco como “dois instintos, tão diferentes entre si”, que, apesar de suas oposições intrínsecas, são “acoplados”. Em certo sentido, para o filósofo, são duas forças antagônicas da própria vida humana, que os antigos (como Empédocles) já haviam expresso em suas teorias metafísicas.
Questão 7
“Uma obra de arte pode denominar-se revolucionária se, em virtude da transformação estética, representar, no destino exemplar dos indivíduos, a predominante ausência de liberdade, rompendo assim com a realidade social mistificada e petrificada e abrindo os horizontes da libertação. Esta tese implica que a literatura não é revolucionária por ser escrita para a classe trabalhadora ou para a “revolução”. O potencial político da arte baseia-se apenas na sua própria dimensão estética. A sua relação com a práxis (ação política) é inexoravelmente indireta e frustrante. Quanto mais imediatamente política for a obra de arte, mais reduzidos são seus objetivos de transcendência e mudança. Nesse sentido, pode haver mais potencial subversivo na poesia de Baudelaire e Rimbaud que nas peças didáticas de Brecht”. (MARCUSE, H. A Dimensão Estética).
De acordo com o texto, qual das alternativas expressa o potencial revolucionário da arte, segundo Marcuse?
A) O caráter revolucionário da arte se manifesta quando ela é criada para classe trabalhadora, como uma forma de conscientização;
B) A arte só se torna revolucionária e engajada, quando, intencionalmente, alia-se a práxis;
C) A arte é mais revolucionária em sua dimensão estética, ou seja, quanto menor for sua vinculação com a política;
D) A revolução artística só ocorre quando ela deixa de questionar a realidade social e agir politicamente;
Segundo Herbert Marcuse (1898-1979), um dos teóricos da escola de Frankfurt, o potencial político da arte está nela mesma, em sua dimensão estética.
A arte, segundo Marcuse, não é a da arte capitalista ou que se constitui a partir das estruturas dominantes, mas é uma arte autônoma, que transcende as relações sociais e, portanto, a própria estrutura política.
Nesse sentido, essa arte é universal e autônoma, uma vez que não se dissolve nos "problemas de luta de classes" (MARCUSE apud: CHAVES; RIBEIRO, 2014, p.15). Ela se volta a todos os sujeitos, ao criar um mundo ficcional a partir do que é subjetivo (sentimentos, percepções etc). Assim, seu poder de transformação política não está ligada a quem a produziu ou a quem se destina, mas na sua representação, principalmente, na representação da ausência de liberdade em uma sociedade repressiva.
Leia também: O que é estética na filosofia
Para praticar mais:
Exercício de Filosofia para o 1º ano do Ensino Médio (com gabarito)
Exercícios de Filosofia (com respostas explicadas)
Referências Bibliográficas
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. A Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar.
ARAUJO, B. S. R. O Conceito de Aura, de Walter Benjamin, e a Indústria Cultural. Pós v.17 n. 28, São Paulo,Dez. 2010.
BAUMGARTEN, A. G. Estética: a lógica da arte e do poema, Tradução de Miriam Sutter Medeiros. Petrópolis: Vozes, 1993)
CHAVES, J. C.; RIBEIRO, D. R.. “Arte em Herbert Marcuse: formação e resistência à sociedade unidimensional”. Psicologia & Sociedade, v.26, n.1, 2014, pp. 12–21.
DINIZ, D. Entre Apolo e Dionisio: o pathos da tentação em “a imitação da Rosa”, de Clarice Lispector. Palimpsesto, n. 16, a. 12, 2013.
LACOSTE, J. A Filosofia da Arte. Tradução de Alvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.
MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
PLATÃO. A República. Tradução e Notas de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
REALE, G. Historia da Filosofia, VI: de Nietzsche à Escola de Frankfurt. Tradução de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2006
RUFINONI, P. R. “Filosofia da Arte e Estética: um caminho e muitos desvios”, In: CORNELLI, G.; CARVALHO, M; DANELON, M.. (Org.). Filosofia: Ensino Médio. Coleção Explorando o Ensino. Brasília: Ministério da Educação (MEC), v. 14, 2010.
SOUSA, J. S. “Um Panorama Inicial sobre Dimensão Estética em Marcuse e sua Crítica aos Estetas do Marxismo Ortodoxo”. II Encontro Nacional Hebert Marcuse. Fortaleza, v. 1., n. 1, 2016.
AGUENA, Anita. Exercícios sobre estética na filosofia (com gabarito). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-estetica-na-filosofia-com-gabarito/. Acesso em: