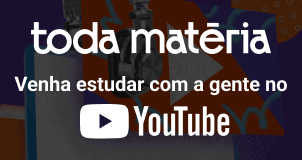Exercícios sobre o pensamento platônico (com gabarito)
Confira os exercícios sobre o pensamento platônico com um gabarito comentado, que explica detalhadamente as respostas, permitindo ao estudante aprofundar sua compreensão sobre o tema.
Este material é ideal para quem deseja reforçar seus conhecimentos em Filosofia, preparar-se para o Enem ou para vestibulares, ou simplesmente refletir sobre as questões atemporais levantadas por Platão.
Questão 1
“É através desse processo sucessivo de adaptação do olhar e de busca de uma nova visão que o prisioneiro, sempre caminhando em direção à luz, sai da caverna e percorre novamente as mesmas etapas no mundo externo (equivalente ao segmento A da Linha), olhando primeiro as sombras e imagens, depois os próprios objetos, depois os reflexos dos astros até finalmente conseguir olhar o próprio Sol. O Sol simboliza aí para Platão, como no texto do mito do Sol (República, VI), o grau máximo de realidade, o ser em sua plenitude, a própria ideia do Bem, através da metáfora da luz como o que ilumina, torna visível e se opõe à escuridão e às trevas”. (MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008).
De acordo com o pensamento platônico, a imagem do prisioneiro conseguir olhar o próprio sol é uma referência:
A) À contemplação do mito da caverna;
B) Ao vislumbre do mundo sensível tal como ele é;
C) À contemplação do mundo das ideias;
D) Ao entendimento da relação entre os astros e o Sol;
O trecho acima faz menção ao Mito das Cavernas, descrevendo a jornada do prisioneiro para fora da caverna e o momento em que se depara com o Sol. Platão usa o mito para explicar a sua teoria das ideias. Nessa alegoria, a caverna e suas sombras representariam o mundo sensível, mundo das aparências que percebemos pelos nossos sentidos.
A saída da caverna pelo prisioneiro simboliza a libertação da alma e sua ascensão na busca da verdade (a subida para o mundo inteligível). O mundo inteligível ou da Ideias é o mundo da verdadeira realidade, em que se encontram a essência imutável das coisas do mundo sensível. O Sol da alegoria simbolizaria, então, o auge da jornada, quando a alma atinge o conhecimento do bem e a compreensão das formas puras.
Questão 2
“Como procurar por algo, Sócrates, quando não se sabe pelo que se procura? Como propor investigações acerca de coisas as quais nem mesmo conhecemos? Ora, mesmo que viéssemos a depararmos com elas, como saberíamos que são o que não conhecíamos?” (PLATÃO, apud: MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008).
A questão acima é solucionada por Platão por meio:
A) do mito de Prometeu, pois trata da habilidade adquirida pela humanidade;
B) da teoria do Demiurgo, uma vez que fala da origem de tudo, inclusive do homem;
C) do método dialético, uma vez que somente pelo confronto de ideias conhecemos a realidade;
D) da teoria da reminiscência, visto que a alma já traz consigo o conhecimento verdadeiro;
Mênon é um dos diálogos de Platão em que é discutida a natureza da virtude e sobre o que pode ser aprendido. Nesse diálogo, Platão apresenta a teoria da reminiscência (anamnese) como solução ao problema trazido por Mênon quanto ao aprendizado do conhecimento. Para Platão, não aprendemos os conhecimentos, mas simplesmente os recordamos, uma vez que nossa alma, sendo imortal e antes de se conectar ao corpo, teve acesso ao mundo inteligível.
Questão 3
“Eis, por que ficou companheiro e servo de Afrodite o Amor, gerado em seu natalício, ao mesmo tempo que por natureza amante do belo, porque também Afrodite é bela. E por ser filho o Amor de Recurso e de Pobreza foi esta a condição em que ele ficou. Primeiramente ele é sempre pobre, e longe está de ser delicado e belo. como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. Segundo o pai, porém, ele é insidioso com o que é belo e bom, e corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria e cheio de recursos, a filosofar por toda a vida [...]” (PLATÃO, O Banquete).
No trecho acima, Platão está tratando da natureza do Amor, tendo como base o mito do nascimento de Eros. No decorrer do trecho, o pensador fará uma comparação entre o Amor e o filósofo. Essa comparação só é possível porque:
A) o amor, assim como o filósofo, é pobre e desprovido de qualquer bem material, buscando incessantemente a riqueza;
B) tanto o amor quanto o filósofo compartilham a mesma origem dos deuses, assim todo filósofo, na verdade, é um deus;
C) tanto o filósofo quanto o amor são seres intermediários que desejam aquilo que lhes faltam;
D) o filósofo, assim como amor, deriva da riqueza, por isso, nada lhe falta;
O Banquete de Platão é um diálogo que tem como tema central o amor. No trecho em destaque, temos a explicação da sacerdotisa e mentora de Sócrates, Diotima de Mantineia, acerca da natureza do amor.
Ela explica que o Amor (Eros) é um ser intermediário, uma vez que é filho da Pobreza (Penia) e do Recurso (Poros). Assim, ele tem capacidade e astúcia (como o Recurso), mas é carente e cheio de desejo por aquilo que é belo, uma vez que isso lhe falta (como a Pobreza).
Platão utiliza essa alegoria como uma forma de explicar a natureza do filósofo. Devemos lembrar que, no grego, a Filosofia é por definição “amor à sabedoria”. Nesse sentido, o filósofo é aquele que ama e deseja a sabedoria, não porque a possui, mas justamente porque ela lhe falta.
O filósofo, portanto, não é o sábio, caso contrário não precisaria buscar a sabedoria, mas também não é o ignorante, pois, diferente deste, o filósofo sabe do que é carente. Por isso, é ele um ser intermediário, assim como o amor.
Questão 4
“ - E denominamo-lo de sábio, em atenção àquela pequena parte pela qual governa o seu interior e fornece essas instruções, parte essa que possui, por sua vez,a ciência do que convém a cada um e a todos em conjunto, dos três elementos da alma.
- Exatamente.
- E agora? Não lhe chamamos temperante, devido à amizade e a harmonia desses elementos, quando o governante e os dois governados concordam em que é a razão que deve governar e não se revoltam contra ela?
- Efetivamente, a temperança não é outra coisa senão isso, quer na cidade, quer no indivíduo”. (PLATÃO. A República, 442c-442d).
Considerando o trecho acima, que trata da divisão da alma, é correto que a vida virtuosa, para Platão, é alcançada quando:
A) As paixões e os desejos guiam as ações, garantindo a satisfação e, portanto, a felicidade;
B) O indivíduo permite que a parte concupiscível da alma governe as demais partes, a fim de conduzir a alma à verdade presente no mundo inteligível;
C) O indivíduo satisfaz todas as suas partes igualmente, evitando uma hierarquia ou governo de uma sobre outra;
D) A porção racional da alma assume o controle sobre a porção irascível e concupiscente, garantindo a harmonia entre elas;
No trecho da República, temos uma menção a divisão da alma humana e como ela deve ser governada, de modo a alcançar a virtude. A alma, segundo Platão, pode ser divida em três partes, a saber:
I. parte concupiscível: elemento atrelado aos apetites e que tem a temperança como virtude a ser alcançada;
II. parte irascível: parte ligada às paixões e tem a coragem como virtude;
III. parte racional: parte ligada à razão e que tem como virtude a sabedoria.
De acordo com o trecho, para Platão, cabe a razão ter o governo sobre as demais e nenhuma parte deve se “revoltar” contra ela, pois somente assim, sob o comando da sabedoria, é possível a aquisição de cada uma das virtudes e, com efeito, a harmonia entre as partes.
Questão 5
“Ora, como não é graças a uma arte que os poetas compõem e enunciam tantas coisas belas sobre os temas de que tratam – não mais que você quando fala de Homero – mas é por um favor divino, cada poeta só pode fazer uma bela composição na via onde a Musa o impeliu: tal poeta, nos ditirambos, tal outro, nos elogios, aquele, nos cantos de dança, aquele outro nos versos épicos, um último, nos iambos. De outro modo, quando esses poetas tentam compor em outros gêneros poéticos, eis que cada um deles se torna um poeta medíocre. Pois não é graças a uma arte que os poetas proferem seus poemas, mas graças a uma potência divina. Com efeito, se fosse graças a uma arte que eles soubessem bem falar num certo estilo, eles saberiam bem falar nos outros estilos também.” (PLATÃO, Íon, 534c).
De acordo com as ideias de Platão, o trecho acima contém:
A) uma defesa a arte poética, uma vez que ela é indispensável a formação do homem grego;
B) uma crítica a poesia e a arte poética, em virtude dela ter sido consagrada como conhecimento verdadeiro por derivar da inspiração divina;
C) o início das críticas platônicas aos poetas, que se viam como donos de uma arte e de um conhecimento;
D) uma explicação dos diferentes gêneros poéticos e como os poetas adquirem e tornam essa arte uma profissão;
Platão é famoso por lançar duras críticas aos poetas, principalmente na obra da República.
Devemos lembrar que os poetas, na época de Platão, estavam vinculados à manutenção da tradição oral e, portanto, com a educação do povo grego.
Platão, na República, criticava a poesia, em virtude dela imitar a realidade. Assim, ela não só distanciava o espectador da verdade, como era capaz de ensinar a ele, os vícios humanos.
No trecho acima do texto Íon, a crítica de Platão aos poetas está no fato deles se afirmarem como detentores de uma arte ou um conhecimento universal. Seu argumento crítico tem início com a própria confissão de Íon, que se diz incapaz de declamar texto de outros poetas que não fosse Homero. Sócrates, então, enfatiza que se houvesse um saber técnico e universal, o poeta saberia proferir outros estilos de poesia. Por isso, Sócrates conclui que a capacidade de composição e de proclamação derivariam da inspiração divina e não de uma capacidade adquirida.
Questão 6
“É preciso ir contra a opinião que não se reconhece como opinião, mas que se apresenta como certeza, que se baseia em fatos, na realidade particular, concreta, na experiência, tomando como totalidade do real, como fundamento da certeza, aquilo que é parcial, contingente, mutável, passageiro. É preciso, portanto, revelar, denunciar, que a opinião tem uma “falsa consciência” de si mesma. É a isso que Platão opõe a verdade e o conhecimento. A opinião não se dá conta do caráter convencional da linguagem, e portanto dos valores, crenças, interesses e preconceitos nela embutidos, ocultando as inconsistências da experiência sob uma falsa unidade. Não percebe que a linguagem só é válida quando expressa um conhecimento verdadeiro”. (MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008).
A fim de consolidar uma verdade universal, Platão aplica um método. Qual é esse método?
A) Método dialético;
B) Método Qualitativo;
C) Método Quantitativo;
D) Método do Materialismo Histórico;
O método dialético é uma abordagem filosófica que busca a verdade por meio da confrontação de ideias.
Em Platão, esse método se dá pelo próprio diálogo que o personagem Sócrates trava com outras figuras importantes de sua época.
Questão 7
“Porque, de fato, a divindade é bonita, e a coisa mais esplêndida de todas as coisas bonitas. Porém, Ela não é um corpo bonito, mas aquilo de onde a beleza flui para o corpo; nem um campo bonito, mas aquilo de onde o campo recebe a sua beleza. A beleza de um rio ou do mar, do céu e dos deuses que moram nele, toda esta beleza flui dela, como de uma fonte eterna e incorruptível. Na medida em que cada coisa participa disto, ela é bonita, estável e segura; e na medida em que se afasta, é falsa, esparsa e corrupta. No caso de estas coisas serem suficientes, você viu Deus. Senão, qual forma poderia ser descrita de modo enigmático. Não atribui nele nem grandeza ou cor ou figura, ou qualquer outra propriedade material, mas age como o amante, que desnudaria o corpo bonito, que está escondido por muitos e vários vestidos e o faz o claramente visível. Que isto seja feito por você agora: e pela energia da razão, afasta o palco que está ao seu redor, e este intenso uso dos olhos, e fica com aquilo que permanece, porque aquilo é de fato a verdadeira coisa que deseja”. (MAXÍMO DE TIRO, apud: MARCOS; REEGEN, 2015, p.103-104).
O trecho acima é retirado do pensamento de Máximo de Tiro, um filósofo do final do século II d.C., que associa Deus ao que é belo, verdadeiro e imaterial, uma vez que não pode ser visto com os olhos, mas somente com a razão. Tendo em vista essas ideias, é inegável que Máximo teve forte influência:
A) Do pensamento epicurista, que busca a satisfação ao contemplar a beleza divina;
B) Do pensamento platônico que aponta para a existência de uma realidade com formas puras e perfeitas;
C) De Sócrates, pois se vale da ironia e da razão para encontrar a verdade sobre Deus;
D) Do pensamento estoico, que se concentra em viver em harmonia com a ordem natural do mundo, opondo-se à investigação da natureza divina;
Máximo de Tiro foi um filósofo e orador aproximadamente do século II d.C.. Pouco se sabe sobre sua vida, e as informações existentes derivam principalmente da obra Crônica de Eusébio de Cesareia (bispo da igreja do século IV), ou, segundo alguns estudiosos, são baseadas na obras o Onomatológos de Hesíquio (gramático de Alexandria do século VI).
Máximo escreveu um conjunto de 41 textos que ficou conhecido pelo título Dialéxeis. Nela, segundo os estudiosos, estão compilados os discursos que ele proferiu em sua passagem por Roma. Entre esses discursos há escritos, como o do trecho em questão, em que ele trata da transcendência divina e traz uma aproximação do discurso platônico, mostrando a grande influência do filósofo grego mesmo séculos após sua morte.
No trecho acima, Máximo apresenta uma clara distinção entre dois planos de realidade, algo central na teoria das formas de Platão.
De um lado temos a realidade imaterial e perfeita, representada pela divindade, que aparece como fonte da beleza, da verdade e da incorrupção. Tal realidade/existência só pode ser apreendida pelo homem quando este investe esforço em desenvolver sua razão.
De outro, temos a realidade material e imperfeita, que é perceptível pelos sentidos, mas que é marcada pela aparência, efemeridade e corrupção.
Pratique com mais:
Atividades sobre o mito da caverna (para imprimir)
Exercício de filosofia para o 1º ano do ensino médio (com gabarito).
Referências Bibliográficas
BRANDÃO, Bernardo Lins. A Polifonia do Platonismo: Alcínoo e Máximo de Tiro. Nuntius Antiquus, [S.l.], v. 12, n. 2, jan. 2017, pp. 27-48.
MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 12a ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
MARCOS, F. E.; REEGEN, J. G. J. As Fontes Neoplatônicas de Santo Agostinho: algumas pistas novas. Kairós: R. Acadêmica da Prainha. FOrtaleza, v. 12, n. 1-2, 2015, pp. 93-112.
PENEDOS, A. J. O Pensamento Político de Platão: da apologia ao Sócrates ao Mênon. v. I. Tese de Doutorado. Faculdade de Letras do Porto, 1977.
PLATÃO. A República. Tradução e Notas de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
PLATÃO. O Banquete. Coleção Os Pensadores. Traduções de: José Cavalcante de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1972.
TAKAYAMA, L. R. Sobre a Crítica de Platão à Poesia. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2006.
AGUENA, Anita. Exercícios sobre o pensamento platônico (com gabarito). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-o-pensamento-platonico-com-gabarito/. Acesso em: