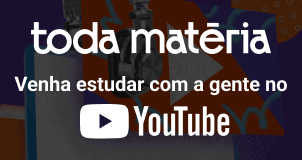Exercícios sobre os principais escritores brasileiros (com gabarito)
Confira a seguir os exercícios comentados sobre alguns dos principais nomes da literatura brasileira. Teste seus conhecimentos e continue estudando.
Questão 1
Texto I
No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança leia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma.
Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar exclamava:
— Ai! que preguiça!...
[...]
ANDRADE, Mário. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 2008.
Texto II
Para o leitor que desconhece a Literatura Indígena Contemporânea, esta surge para a sociedade envolvente a partir da década de 1990, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. O advento constitucional permitiu aos sujeitos indígenas o direito à cidadania brasileira sem que para isso os sujeitos nativos precisassem negar sua identidade, podendo legalmente exercer quaisquer ofícios ou ter qualquer contato com a sociedade nacional. Dessa forma, podemos dizer que os povos indígenas foram os últimos povos a se tornarem brasileiros, brasileiros com cidadania brasileira e identidades indígenas concomitantemente.
DORRICO, Julie. A fortuna crítica (da exclusão): Makunaimî na literatura indígena contemporânea. Revista do centro de pesquisa e formação. n. 14. jul. 2022.
Mário de Andrade foi um escritor singular na história da Literatura brasileira. Sua obra Macunaíma revelou acuidade e criticismo ao abordar a temática nacional. A partir de seus conhecimentos sobre o modernismo, na leitura dos textos é possível inferir que
a) Mário de Andrade, ao criar Macunaíma, negou totalmente as raízes indígenas na construção da identidade brasileira, o que foi corrigido pela literatura indígena contemporânea.
b) a representação de Macunaíma como “herói da nossa gente” ironiza uma identidade nacional marcada por múltiplas origens, inclusive indígenas, ainda que marginalizadas.
c) a literatura indígena contemporânea rejeita qualquer influência da tradição literária brasileira e busca construir uma identidade exclusivamente nativa.
d) o silêncio de Macunaíma na infância representa a recusa do personagem à cultura indígena, o que contrasta com a valorização dessa identidade no texto II.
e) ambos os textos exaltam a figura do indígena como herói nacional homogêneo, símbolo único da brasilidade autêntica.
A alternativa B está correta ao apontar que a obra de Mário de Andrade, ao criar um herói contraditório e multifacetado como Macunaíma, ironiza e questiona a ideia de uma identidade nacional homogênea, valorizando elementos culturais diversos, como a oralidade e o universo indígena.
Já o texto II mostra que só recentemente os próprios povos indígenas passaram a ter direito à cidadania plena sem abrir mão de suas identidades.
Há, portanto, um diálogo entre os textos sobre a complexidade da identidade brasileira.
Questão 2
Amor
Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação.
Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores.
Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida.
Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos; com o tempo seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa; a vida podia ser feita pela mão do homem.
[...]
LISPECTOR, Clarice. Amor. In: Laços de família.
Considerando o trecho e o estilo característico de Clarice Lispector, é correto afirmar que o texto:
a) valoriza a objetividade do enredo e a ação da personagem, seguindo o modelo tradicional do romance realista do século XIX.
b) constrói uma crítica social direta à condição da mulher na sociedade contemporânea, por meio de denúncias explícitas.
c) revela a tensão entre o cotidiano e o universo interior da personagem, expressa por meio de uma prosa intimista e reflexiva.
d) enfatiza a coletividade e a vida urbana como pano de fundo para a construção de um drama familiar e político.
e) estabelece um conflito claro entre a personagem e os demais ao seu redor, o que motiva uma transformação radical em sua trajetória.
A alternativa C é a correta porque captura com precisão a marca registrada da escrita de Clarice Lispector: a introspecção, o fluxo de consciência e a reflexão subjetiva sobre a existência cotidiana.
O trecho mostra a personagem Ana imersa em suas tarefas rotineiras, mas, ao mesmo tempo, questionando-se sobre seu papel, seu valor e o sentido da vida, de modo a revelar uma inquietação existencial (a epifania) em meio à aparente normalidade.
Questão 3
O burrinho pedrês
Era um burrinho pedrês, miúdo e resignado, vindo de Passa-Tempo, Conceição do Serro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete-de-Ouros, e já fora tão bom, como outro não existiu e nem pode haver igual.
Agora, porém, estava idoso, muito idoso. Tanto, que nem seria preciso abaixar-lhe a maxila teimosa, para espiar os cantos dos dentes. Era decrépito mesmo à distância: no algodão bruto do pelo — sementinhas escuras em rama rala e encardida; nos olhos remelentos, cor de bismuto, com pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, em constante semi-sono; e na linha, fatigada e respeitável — uma horizontal perfeita, do começo da testa à raiz da cauda em pêndulo amplo, para cá, para lá, tangendo as moscas.
Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Fora comprado, dado, trocado e revendido, vezes, por bons e maus preços. Em cima dele morrera um tropeiro do Indaiá, baleado pelas costas. Trouxera, um dia, do pasto — coisa muito rara para essa raça de cobras — uma jararacuçu, pendurada do focinho, como linda tromba negra com diagonais amarelas, da qual não morreu porque a lua era boa e o benzedor acudiu pronto. Vinha-lhe de padrinho jogador de truque a última intitulação, de baralho, de manilha; mas, vida a fora, por amos e anos, outras tivera, sempre involuntariamente: Brinquinho, primeiro, ao ser brinquedo de meninos; Rolete, em seguida, pois fora gordo, na adolescência; mais tarde, Chico-Chato, porque o sétimo dono, que tinha essa alcunha, se esquecera, ao negociá-lo, de ensinar ao novo comprador o nome do animal, e, na região, em tais casos, assim sucedia; e, ainda, Capricho, visto que o novo proprietário pensava que Chico-Chato não fosse apelido decente.
[...]
ROSA, Guimarães. O burrinho pedrês. In: Sagarana.
A partir do excerto, observa-se que o texto roseano desenvolve uma poética do sertão marcada por:
a) realismo psicológico das personagens e narrativa centrada na consciência do narrador sertanejo.
b) tensionamento entre oralidade e escrita culta, com forte presença de lirismo e mitopoética da existência.
c) ruptura total com a tradição regionalista ao eliminar o espaço rural como referência simbólica.
d) minimalismo estético e economia de linguagem, em sintonia com a estética modernista urbana.
e) reiteração de arquétipos sociais de submissão animal, com linguagem descritiva estritamente naturalista.
A alternativa B é a correta porque sintetiza as principais características da prosa de João Guimarães Rosa, visíveis no excerto: a fusão entre a oralidade sertaneja e a elaboração estilística refinada, que cria uma linguagem literária única, marcada por neologismos, ritmo próprio e sintaxe inovadora.
Além disso, o trecho carrega forte carga simbólica e lírica, afinal, o burrinho, mesmo sendo um animal comum e velho, é retratado com dignidade quase mítica, com nomes que se acumulam como camadas de identidade, experiências que beiram o fantástico (como o episódio da jararacuçu e da “lua boa”) e um tom de fábula existencial.
O sertão, longe de ser apenas pano de fundo geográfico, torna-se espaço de uma poética da vida e da resistência, revelando o caráter mitopoético da narrativa rosiana.
Questão 4
Pai contra mãe
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha-de-flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dous para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dous pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras.
O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado.
Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando.
Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha promessa: "gratificar-se-á generosamente", - ou "receberá uma boa gratificação". Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse.
Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem.
[...]
Machado de Assis. Pai contra mãe. In: Obra completa, 1992, vol. II, p. 659-667. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/. Acesso em: jun. 2025.
Considerando o contexto histórico e a estratégia discursiva de Machado de Assis, o texto utiliza-se de um recurso estilístico caracterizado pela
a) denúncia explícita da escravidão, com linguagem panfletária, evidenciada por frases de apelo emocional como “A escravidão impôs sofrimento e miséria a uma raça inteira”.
b) naturalização das práticas escravistas, como quando afirma que “a máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos”, sem condenar tal violência.
c) crítica irônica à ordem escravocrata, como ao afirmar que “a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel”, expondo o absurdo da violência como meio de “ordem”.
d) valorização da autoridade social, ao afirmar que “pegar escravos fugidios [...] trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras”, o que mostra apoio às leis da época.
e) relativização dos sofrimentos da escravidão, ao mencionar que “nem todos gostavam de apanhar pancada”, sugerindo que os castigos não eram tão graves ou frequentes.
A alternativa correta é a C porque expressa com precisão o tom irônico e crítico característico da escrita machadiana ao tratar da escravidão.
No trecho “a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel”, o autor não justifica nem legitima a violência escravocrata, mas a revela em sua forma mais absurda, expondo a crueldade como algo naturalizado sob o pretexto da ordem.
O mesmo ocorre quando menciona o “ofício” de capturar escravos fugidos como dotado de “nobreza implícita”: longe de elogio, trata-se de uma ironia amarga, que desmascara a ideologia de manutenção da propriedade e da repressão como expressão de moral ou civilidade.
Essa abordagem é típica da maturidade literária de Machado de Assis, que evita a denúncia direta e opta por desmontar o discurso dominante a partir de dentro, com linguagem sofisticada e ambígua, levando o leitor atento a reconhecer a barbárie travestida de norma social.
Questão 5
Leia o excerto do poema I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias, em que um jovem guerreiro tupi, capturado por uma tribo inimiga, é libertado após comover seus algozes com o sofrimento do pai:
“Timbira”, diz o índio enternecido,
Solto apenas dos nós que o seguravam:
“És um guerreiro ilustre, um grande chefe,
Tu que assim do meu mal te comoveste,
Nem sofres que, transposta a natureza,
Com olhos onde a luz já não cintila,
Chore a morte do filho o pai cansado,
Que somente por seu na voz conhece.”
- “És livre; parte.”.
- “E voltarei.”
- “Debalde.”
- “Sim, voltarei, morto meu pai.”
- “Não voltes!
É bem feliz, se existe, em que não veja,
Que filho tem, qual chora: és livre; parte!”
- “Acaso tu supões que me acobardo,
Que receio morrer!”
- “És livre; parte!”
- “Ora não partirei; quero provar-te
Que um filho dos Tupis vive com honra,
E com honra maior, se acaso o vencem,
Da morte o passo glorioso afronta.”
- “Mentiste, que um Tupi não chora nunca,
E tu choraste!... parte; não queremos
Com carne vil enfraquecer os fortes.”
[...]
DIAS, Gonçalves. I-Juca-Pirama.
Após ser libertado, o jovem reencontra o pai, que ao saber que ele não enfrentara a morte como guerreiro, o amaldiçoa e o rejeita, exigindo que volte e conquiste sua honra no combate. Essa postura do pai pode ser compreendida, no contexto do Romantismo brasileiro, como
a) uma expressão do moralismo burguês, que condenava atitudes impulsivas e exaltava o controle racional das emoções.
b) uma crítica à obediência filial, muito valorizada nas sociedades indígenas, em contraste com os valores ocidentais modernos.
c) uma representação do conflito entre civilização e barbárie, tema central da poesia indianista que visava criticar o processo de colonização.
d) um reflexo da ética cristã da época, em que o sacrifício e a penitência conduziam ao reconhecimento público e à redenção.
e) uma reafirmação dos códigos de honra e coragem que o Romantismo projetava sobre os indígenas, transformando-os em símbolo idealizado da nacionalidade.
A alternativa E é correta porque expressa a intenção do projeto romântico-nacionalista de Gonçalves Dias, que buscava exaltar os indígenas como heróis fundadores da nacionalidade brasileira.
No poema, o pai não age por crueldade, mas sim como representante de um código de honra heroico que valoriza a bravura, a glória e a morte digna como virtudes fundamentais do verdadeiro guerreiro.
Ao exigir que o filho retorne para morrer lutando, ele reforça os valores idealizados que o Romantismo atribuía aos povos nativos, muitas vezes distantes da realidade histórica, mas funcionais como mitos fundadores de uma identidade nacional brasileira “pura” e heroica.
O gesto do pai, portanto, não é pessoal, mas simbólico: ele defende a honra como valor coletivo e o heroísmo indígena como modelo de brasilidade.
Questão 6
Texto I
Estavam já feitos os aprestos da viagem, e Túlio, entanto no meio da sua felicidade parecia às vezes tocado por viva melancolia, que se lhe debuxava no rosto, onde uma lágrima recente havia deixado profundo sulco. Era por sem dúvida a saudade da separação, essa dor, que aflige a todo o coração sensível, que assim o consumia. Ia deixar a casa de sua senhora, onde senão ledos, pelo menos não muito amargos tinha ele passado seus primeiros anos. O negro sentia saudades.
E aí havia uma mulher escrava, e negra como ele; mas boa, e compassiva, que lhe serviu de mãe enquanto lhe sorriu essa idade lisonjeira e feliz, única na vida do homem que se grava no coração com caracteres de amor [...]
Susana, chama-se ela; trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto, cuja orla chegava-lhe ao meio das pernas magras e descarnadas como todo o seu corpo: na cabeça tinha cingido um lenço encarnado e amarelo, que mal lhe ocultava as alvíssimas cãs.
Túlio estava ante ela com os braços cruzados sobre o peito. Em seu semblante transparecia um quê de dor mal reprimida, que denunciava o seu profundo pesar.
A velha deixou o fuso em que fiava, ergueu-se sem olhá-lo, tomou o cachimbo, encheu-o de tabaco, acendeu-o, tirou dele algumas baforadas de fumo, e de novo sentou-se: mas desta vez não pegou no fuso.
REIS, Maria Firmina. Úrsula, 7. ed., 2018, p. 99-104.
Texto II
A composição do personagem já indica a perspectiva que orienta a representação do choque entre as etnias no texto de Maria Firmina dos Reis. A escravidão é “odiosa”, mas nem por isto endurece a sensibilidade do jovem negro. Eis a chave para compreender a estratégia autoral de denúncia e combate ao regime sem agredir em demasia as convicções dos leitores brancos. Túlio é vítima, não algoz. Sua revolta se faz em silêncio, pois não tem meios para confrontar o poder dos senhores.
DUARTE, Eduardo de Assis. Maria Firmina dos Reis e os Primórdios da Ficção Afro-brasileira.
Com base nos textos e no contexto da obra Úrsula (1859), escrita por Maria Firmina dos Reis durante o século XIX, a caracterização de Túlio revela uma estratégia da autora para
a) retratar o escravizado como um herói romântico dotado de poderes sobrenaturais, opondo-se à opressão com força e vingança.
b) reforçar o discurso dominante da época ao mostrar o escravizado como obediente e resignado diante de seu destino.
c) idealizar a escravidão como um sistema harmônico em que senhores e escravizados convivem pacificamente.
d) promover a empatia do leitor por meio da expressão da dor e do afeto do personagem negro, desafiando a desumanização do escravizado.
e) distanciar o leitor da realidade escravocrata ao enfatizar apenas os conflitos amorosos e individuais das personagens brancas.
Ao atribuir a Túlio emoções como melancolia, saudade e pesar, Maria Firmina dos Reis rompe com a representação estereotipada e desumanizadora do negro escravizado, comum na literatura de sua época.
Sua abordagem sensível e empática busca despertar no leitor o reconhecimento da humanidade dos sujeitos negros, denunciando os horrores da escravidão sem recorrer à violência explícita, explorando uma estratégia literária sutil, porém poderosa.
Leia mais sobre o assunto em: Principais autores da literatura brasileira (e suas obras)
LUIS, Rodrigo. Exercícios sobre os principais escritores brasileiros (com gabarito). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-os-principais-escritores-brasileiros-com-gabarito/. Acesso em: