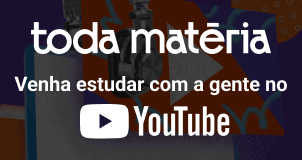Exercícios sobre a Teoria do Conhecimento (Gnosiologia) com gabarito
A Teoria do Conhecimento, ou Gnosiologia, investiga os limites, a origem e a validade do saber humano. Nesta atividade, você encontrará exercícios que exploram os principais conceitos dessa área filosófica, acompanhados de gabarito para autoavaliação.
Questão 1
A Gnosiologia, ou Teoria do Conhecimento, é o ramo da filosofia que investiga:
A) a natureza do belo e como se dá a percepção humana;
B) a origem, o limite e a validade do conhecimento;
C) a existência e natureza divina;
D) as ações humanas, avaliando em vício e virtude;
Derivado da junção dos termos gregos gnosis (conhecimento) e logos (estudo), Gnosiologia é um ramo da Filosofia que se volta para a apreensão do que é cognoscível. Ela investiga perguntas, como:
Como conhecemos?
De onde deriva nosso conhecimento?
O que podemos, de fato, conhecer?
É possível ter um conhecimento verdadeiro e seguro?
Questão 2
Considerando que Aristóteles define a imaginação como “aquilo em virtude do qual podemos dizer que se origina em nós uma imagem” (De Anima, III, 3, 428a1), marque a alternativa que aponta corretamente o papel dela em sua teoria do conhecimento:
A) Por ser uma faculdade humana, ela serve como porta de acesso ao nosso conhecimento inato;
B) A imaginação é outro nome que Aristóteles dá para nossa faculdade intelectiva, sendo, portanto, como conhecemos as coisas;
C) A imaginação tem a função de perceber os objetos do sensível, ou seja, é aquilo que nos conecta com mundo exterior;
D) A imaginação atua como ponte entre a percepção sensível e o pensamento, sendo uma faculdade humana;
A imaginação (phantasia) é, em Aristóteles, uma entre as várias faculdades humanas. Ela é responsável por produzir e reter imagens, que nada mais são do que impressões apreendidas na alma e que são resultantes do movimento de nossa percepção sensível sobre os objetos.
Ainda que as imagens derivem dos dados coletados pela sensação, a imaginação não é a própria sensação e nem depende dela atuando simultaneamente para que opere. Ora, podemos imaginar objetos sem precisar que eles estejam presentes aos nossos sentidos (sem contato direito com eles). Os sonhos são um exemplo disso.
Dessa forma, a sensação é “capacidade que alma tem de perceber a afecção dos sensíveis por meios dos sentidos”, sendo também “a própria ‘ação’ [...] de perceber ou sentir os sensíveis”. Já a imaginação “é a capacidade, faculdade ou potência que a alma possui de mostrar, fazer aparecer ou manifestar (phaino) o phantasma (a imagem, o mostrado ou aparecido)” (FERREIRA, 2021, p. 90-91).
Essa capacidade de fazer aparecer a imagem é o que dá suporte para a formação do pensamento, sendo também fonte do desejo que leva ao deslocamento em relação a algo.
De forma geral, isso pode ser compreendido pelo seguinte raciocínio: a imagem de algo (um alimento) que já causou dor, comumente, leva o homem a evitar esse objeto, uma vez que associa a ele a lembrança da dor. Logo, pode-se dizer que a imaginação, no pensamento de Aristóteles, tem o papel de intermediar a sensação e os pensamentos.
Questão 3
Leia o trecho e responda:
“Agora, pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados, e que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário, para alcançar esse desígnio, provar que todas elas são falsas, o que talvez nunca levasse a cabo; mas, uma vez que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas” (DESCARTES, Meditações Metafísicas, I).
Qual era o propósito de Descartes ao rejeitar qualquer opinião ou ideia que manifestasse “o menor motivo de dúvida”?
A) Mostrar que não existe nenhuma verdade e que o melhor é suspender o juízo;
B) Encontrar uma verdade que fosse imune a qualquer questionamento e que pudesse construir todo o seu conhecimento;
C) Demonstrar que razão não é capaz de formular ideias verdadeiras e que a única fonte de conhecimento seguro são as experiências;
D) Estabelecer um novo propósito de vida e assumir a sua individualidade ao superar as crenças que lhe foram impostas;
Dentro da Teoria do Conhecimento, uma das principais perguntas é se é possível termos conhecimentos verdadeiros e seguros. René Descartes foi um dos filósofos que se preocupou profundamente com essa questão. Por isso, dedicou-se a buscar um conhecimento verdadeiro e indubitável.
No primeiro capítulo de suas Meditações Metafísicas, ele estabelece como método de sua busca a dúvida, a fim de testar a validade de todas as suas crenças. Para que conseguir edificar uma ciência sobre bases inabaláveis, Descartes precisava eliminar tudo que fosse incerto.
A famosa frase “Penso, logo existo” (penso, logo sou), a primeira verdade de sua teoria, é fruto desse rigoroso processo investigativo.
Questão 4
“Se estas noções não estão impressas naturalmente, como podem ser inatas? E se são noções impressas, como podem ser desconhecidas? Afirmar que uma noção está impressa na mente e, ao mesmo tempo, afirmar que a mente a ignora e jamais teve dela conhecimento, implica reduzir estas impressões a nada. Não se pode afirmar que qualquer proposição está na mente sem ser jamais conhecida e que jamais se tem disso consciência”. (LOCKE, Ensaio acerca do Entendimento Humano. I, 1).
Diante da crítica expressa no trecho acima, pode-se dizer que a fonte do conhecimento humano, para John Locke, é:
A) a razão pura, já que somente ela traz um conhecimento confiável;
B) o próprio indivíduo, uma vez que a ideia nascem com ele;
C) Deus, tendo somente acesso às ideias aqueles que passam a contemplá-Lo;
D) dupla, as ideias derivam tanto das experiências quanto da reflexão acerca dessas experiências;
John Locke é um dos principais nomes do Empirismo, corrente que defende a experiência como fonte do conhecimento humano. Sendo opositor do inatismo, Locke comparava a mente humana a “um papel em branco”, sendo “desprovida de todos os caracteres”.
Segundo ele, todas as ideias, das mais simples às mais complexas, surgem do que nossos sentidos captam dos objetos sensíveis (sensação) e do entendimento que fazemos do que deriva disso (reflexão).
Questão 5
"[...] quando a alma, da melhor forma que puder, consegue apreender, independentemente do corpo e por si mesma, aquilo que ela outrora sofreu conjuntamente com o corpo, não se diz que ela possui uma reminiscência?" (PLATÃO, Filebo, 34b, apud: ROUANET, 2020, p. 199).
De acordo com o pensamento de Platão, a alma tem a capacidade de recordar os conhecimentos, uma vez que estes são inatos a ela. A essa teoria platônica damos o nome de:
A) Teoria da Anamnese;
B) Pirronismo;
C) Teoria Empírica;
D) Teoria da Relatividade;
Anamnese é um termo de origem grega que remete a ideia de “reminiscência” ou “recordação”.
Na Filosofia de Platão, esse termo aparece encabeçando sua teoria acerca do conhecimento que alma tem.
Para Platão, por ser imortal, a alma não é “um livro em branco” que vai sendo preenchido conforme o conhecimento vai sendo adquirido pela experiência. Pelo contrário, a alma é como, “um livro” que já contém em si todo o conhecimento (das formas universais) e que precisa somente recordar-se dele.
Assim, cabe ao homem, como ser racional, rememorar o conhecimento que tinha quando estava em “contato” com o mundo das Ideias, antes de vir a ter a sua existência corpórea.
Questão 6
“A causa original do ceticismo é, dizemos, a esperança de atingir a quietude. Homens de talento, que estavam perturbados pelas contradições nas coisas e em dúvida quanto a qual das alternativas deveriam aceitar, foram levados a investigar o que é verdadeiro nas coisas e o que é falso, esperando, pela clarificação desta questão, atingir a quietude. O mais básico princípio do sistema cético é aquele de opor a toda questão uma questão igual; porque pretendemos que, como uma conseqüência disto, acabamos por cessar de dogmatizar”. (SEXTO EMPÍRICO, apud: BRITO, 2016, p.41-42).
Com base no texto, marque a alternativa correta:
A) O objetivo do ceticismo de Sexto Empírico era confrontar o dogmatismo, mostrando que o seu conhecimento era sustentado pelo engano;
B) Os céticos concordam com os dogmáticos, pois ambos entendem que a razão é o único instrumento capaz de acessar a verdade;
C) Os homens de talentos citados por Sexto Empírico são os que buscam provar que a verdade é inata;
D) O ceticismo de Sexto Empírico tinha como objetivo a ataraxia, para isso, defendia a suspensão do juízo, uma vez que toda ideia possui uma ideia oposta;
Sexto Empírico foi um filósofo, de origem desconhecida, que viveu entre os séculos II e III d.C. Ficou conhecido por ser um dos principais representantes do Pirronismo, corrente cética da Filosofia. Entre suas obras, destacam-se as Hipotiposes Pirrônicas (ou Esboços do Pirronismo) e o tratado Contra os Matemáticos.
Diante das dificuldades inerentes ao conhecimento - especialmente quando duas teorias opostas se apresentam e faltam critérios para decidir qual é verdadeira - o cético adota como saída a “suspensão do juízo” (epoché).
Sexto Empírico defende que a impossibilidade de negar ou afirmar uma ideia (epoché) é a via para se alcançar a tranquilidade da alma (ataraxia), sendo essa, a finalidade de todo cético.
Questão 7
Qual alternativa expressa melhor a teoria de Kant sobre o conhecimento humano?
A) A razão é capaz de alcançar de forma ilimitada todo tipo de conhecimento;
B) O conhecimento é uma ilusão, não havendo nenhum conhecimento da realidade;
C) O conhecimento humano é limitado, não sendo possível conhecer em si as coisas;
D) A experiência é a única forma de se obter um conhecimento verdadeiro;
No decorrer da história da Filosofia e da Teoria do Conhecimento, era possível ver um grande debate entre racionalistas e empiristas sobre a origem do conhecimento, e entre dogmáticos e céticos sobre a possibilidade de um conhecimento seguro e verdadeiro.
Assim, no século XVIII, Immanuel Kant surge trazendo uma solução a tais debates. Sua Revolução Copernicana na Filosofia inverte o foco: ele decide olhar, não para o mundo em si e o que pode ser conhecido dele, mas para razão e seus limites, investigando as condições de possibilidade do próprio conhecimento humano.
Para Kant, o conhecimento não provém apenas dá razão ou somente da experiência, mas é produto de ambos. Nossa mente possui estruturas (a priori) que organizam e dão sentido ao conteúdo da experiência (formas da intuição, como espaço e tempo, e as categorias do entendimento).
Desse modo, os objetos não são conhecidos por si, em sua totalidade intrínseca, mas são conhecidos apenas como nos aparecem (fenômenos), conforme são organizados e moldados por essas estruturas de nossa mente.
O limite do conhecimento se dá justamente aqui: podemos conhecer o mundo tal como ele se manifesta para nós (seus fenômenos), mas não podemos ter acesso à “coisa em si”, que permanece incognoscível.
Aprofunde os seus estudos com:
Teoria do Conhecimento (Gnosiologia): revise o conteúdo e entenda melhor o que é
Referências Bibliográficas
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
ARISTÓTELES. De Anima. Tradução de Maria Cecília Gomes dos Reis. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2012.
BRITO, R. P. Sexto Empírico: ética, linguagem e epistemologia do século II d.C. em Alexandria. Codex: Revista de Estudos Clássicos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, 2016, pp. 40-63.
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. Coleção Os Pensadores. São Paulo : Abril Cultural, 1983.
FERRATER MORA, José. Dicionário de Filosofia: tomo II L - Z. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1950, pp. 49-56.
FERREIRA, V. D. A Posição da Imaginação na Epistemologia Aristotélica. Filoteológica, Feira de Santana, v. 01, n. 1, jan./jun. 2021, pp. 87 - 103.
FERREIRA, A. Kant e a Revolução Copernicana do Conhecimento: uma introdução. Existência e Arte: Revista eletrônica do grupo PET. São João del Rei, a. 3, n. 7, jan./dez. de 2012.
GOBRY, I. Vocabulário Grego de Filosofia. Tradução de Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
GOMES, W. B. Gnosiologia versus Epistemologia: distinção entre os fundamentos psicológicos para o conhecimento individual e os fundamentos filosóficos para o conhecimento universal. Temas em Psicologia, v. 17, n. 1, 2009.
LOCKE, J. Ensaio acerca do Entendimento Humano. Tradução de Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural, 1999.
MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6a ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
PLATINO, C. E. Teoria do Conhecimento (Conceito), In: Arethusa, deparamento de Filosofia [site].
ROUANET, L. P. Distição entre Memória (Mnéme) e Reminiscência (Anámnese) no Filebo de Platão. HYPNOS, São Paulo, v. 45, 2º sem., 2020, pp. 196-207
AGUENA, Anita. Exercícios sobre a Teoria do Conhecimento (Gnosiologia) com gabarito. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-a-teoria-do-conhecimento-gnosiologia-com-gabarito/. Acesso em: